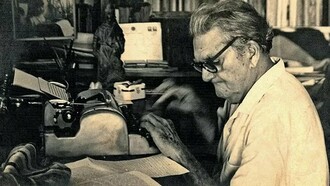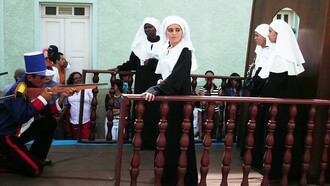No intervalo entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob um regime autoritário que deixou como legado 434 mortos e desaparecidos políticos, além de um sistema institucionalizado de censura e tortura (Brasil, Comissão Nacional da Verdade, 2014). Em 2023, o país superou três décadas da promulgação da Lei dos Desaparecidos Políticos (Lei 9.140/1995), mas o avanço nas identificações dos restos mortais permanece lento, com menos de 10% dos casos solucionados (Instituto Vladimir Herzog, 2023).
Diante do silêncio institucional que ainda persiste no país, a arte contemporânea brasileira assumiu um papel fundamental: tornar visível o invisível, dar corpo ao que foi sistematicamente apagado, e transformar o arquivo burocrático em testemunho sensível.
A relação entre arte e ditadura atravessou diferentes fases no Brasil. Durante as décadas de 1970 e 1980, predominava uma arte de resistência direta, exemplificada pelas charges incisivas de Henfil e pelo teatro engajado de Oduvaldo Vianna Filho, que denunciavam as violações do regime utilizando metáforas para driblar a censura (Ridenti, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira, 2010).
Nos anos 2000, artistas como Nuno Ramos passaram a adotar abordagens mais simbólicas. Na série Cicatriz (2004), Ramos utilizou materiais como arame farpado e fragmentos ósseos para criar instalações que evocavam, sem explicitar, a violência estatal. "Os materiais falam por si", explicou o artista em entrevista à Revista Bravo (2004), "carregam memórias que o discurso oficial tenta apagar".
A partir da década de 2010, particularmente após os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (2012-2014), o enfoque artístico muda da denúncia para o que podemos chamar de “reparação poética”. Segundo a historiadora de arte Annateresa Fabris: "A arte contemporânea brasileira deixou de apenas apontar os crimes do Estado para assumir a tarefa de reconstruir narrativas afetivas, preenchendo as lacunas deixadas pelos documentos oficiais" (Fabris, A. Arte e Política: Algumas Possibilidades de Leitura, 2018).
Nascida em São Paulo em 1946, Carmela Gross viveu sua juventude durante o endurecimento do regime militar. Sua obra Barricadas (2005-2008) forma-se a partir de uma série de instalações que transformam objetos cotidianos em obstáculos físicos, evocando a memória dos protestos de rua violentamente reprimidos pela ditadura.
"Não quero representar a violência diretamente, mas seu rastro no corpo das cidades", declarou a artista ao Jornal Folha de São Paulo (2008). O trabalho de Gross se diferencia pela abstração dos mecanismos repressivos, convidando o espectador a completar, com sua própria experiência, os espaços vazios da memória coletiva.
A artista carioca Alice Miceli (1980-), por sua vez, desenvolveu uma linguagem própria para abordar traumas históricos. Em seus projetos In Depth (sobre campos minados) e Projeto Chernobyl (2007-2010), ela explora técnicas fotográficas não convencionais para documentar vestígios invisíveis de violência. No Projeto Chernobyl, Miceli utilizou filme radiográfico para capturar a radiação residual invisível a olho nu. Esta metodologia foi posteriormente adaptada metaforicamente para seu trabalho sobre a ditadura brasileira. "O que não vemos ainda nos fere. Os traumas políticos, como a radiação, permanecem ativos mesmo quando invisíveis", afirmou a artista em palestra no MAM-SP (2019).
Formado em 2019, o coletivo "Desarquivando o Brasil" representa uma nova geração de artistas que utiliza ferramentas digitais para intervir nos arquivos da ditadura. A plataforma, que reúne historiadores, artistas visuais e programadores, cruza documentos desclassificados com intervenções artísticas digitais.
A instalação Operação Condor (2021) sobrepõe relatórios originais de interrogatórios a mapas interativos de centros de tortura, permitindo que o público navegue por uma cartografia do terror estatal. Segundo o curador Iván Pagés, em texto para o catálogo da exposição o coletivo exibe os documentos, de maneira a 'hackea-los', inserindo neles as vozes que foram sistematicamente apagadas (PAGÉS, I. Catálogo da exposição Desarquivando o Brasil, 2021).
O trabalho de Claudia Andujar com os Yanomami durante a ditadura também representa um capítulo desta história. Suas fotografias documentam comunidades indígenas perseguidas por projetos militares na Amazônia, escancarando uma faceta do regime raramente explorada nas narrativas hegemônicas (Instituto Moreira Salles, Catálogo da exposição Claudia Andujar: A luta Yanomami, 2018).
Já Giselle Beiguelman, com seu aplicativo Monumento Nenhum (2019), utiliza geolocalização para mapear memoriais apagados de vítimas da ditadura em São Paulo, criando uma camada digital sobre o espaço urbano que revela a toponímia da repressão (Revista ZUM, n. 17, 2019).
Um dos aspectos mais instigantes da arte contemporânea ocupada em dialogar com a ditadura é sua capacidade de traduzir o não dito. A instalação Ausências (2013), de Eduardo Coutinho, trabalha precisamente com esta dimensão: fotografias de filhos de desaparecidos políticos são apresentadas ao lado de espaços vazios, simbolizando a presença constante da ausência.
Diversos artistas têm explorado materiais deteriorados, como: papéis corroídos, fitas VHS parcialmente apagadas, negativos danificados, como metáforas da fragilidade da memória. Segundo a curadora Lisette Lagnado: "A deterioração material funciona como alegoria do processo social de esquecimento programado" (Lagnado, L. Arte como Arquivo da Ditadura, Revista Serrote, 2020).
A transformação do trauma histórico em objeto estético não está isenta de riscos. A exposição Horrores da Ditadura (2017) gerou controvérsia ao apresentar imagens explícitas de tortura sem contextualização adequada. Críticos apontaram o perigo da banalização do sofrimento através de sua estetização. O crítico Paulo Herkenhoff foi enfático em sua análise para a Revista Cult (2017): "A arte não pode ser reduzida a um museu de horrores; seu papel é questionar, não chocar. Quando a violência é apresentada sem mediação crítica, corremos o risco de reproduzir, em outro registro, a desumanização que caracterizou o período ditatorial."
O cancelamento da exposição 1964-1985: Retratos da Repressão no Rio de Janeiro em 2023, sob pressão de grupos políticos, deixa claro que ainda estamos sob o efeito de mecanismos de silenciamento. Segundo dados do Observatório da Censura nas Artes (2023), houve um aumento de 37% nos casos de interferência em exposições sobre a ditadura nos últimos cinco anos.
O desafio talvez mais urgente para artistas que trabalham com a memória da ditadura é o crescente desconhecimento histórico. Uma pesquisa do Datafolha (2022) revelou que 40% dos jovens brasileiros desconhecem o que foi a ditadura militar. Diante deste cenário, como criar obras que dialoguem com um público para quem o período é uma abstração cada vez mais distante?
A arte contemporânea brasileira tem cumprido um papel quase que pedagógico onde as instituições oficiais falham: a criação de espaços de memória que resistem ao apagamento sistemático. Como afirma a poeta Elisa Lucinda: "O silêncio é uma forma de violência. A arte é o grito que desentope a garganta da história" (Lucinda, E. Palavra por palavra, 2018).
O desafio que permanece é como evitar que a "moda da memória" se torne passageira, enquanto as feridas históricas seguem abertas. Para além da estética, o que está em jogo é a construção de uma consciência histórica capaz de reconhecer os fantasmas do passado que ainda assombram o presente brasileiro.
Referências
Brasil. Comissão Nacional da Verdade. Relatório final. Brasília: CNV, 2014.
Fabris, Annateresa. Arte e Política: Algumas Possibilidades de Leitura. São Paulo: Edusp, 2018.
Herkenhoff, Paulo. Os limites da representação da dor. Revista Cult, n. 221, 2017.
Instituto Moreira Salles. Catálogo da exposição Claudia Andujar: A luta Yanomami. São Paulo: IMS, 2018.
Instituto Vladimir Herzog. Relatório sobre identificação de desaparecidos políticos no Brasil. São Paulo, 2023.
Lagnado, Lisette. Arte como Arquivo da Ditadura. Revista Serrote, n. 34, 2020.
Lucinda, Elisa. Palavra por palavra. Rio de Janeiro: Record, 2018.
Observatório da censura nas artes. Relatório Anual. São Paulo, 2023.
Pagés, Iván. Catálogo da exposição Desarquivando o Brasil. São Paulo: Pinacoteca, 2021.
Projeto Memória da Ditadura. Relatório de atividades. São Paulo, 2020.
Ridenti, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
Revista Bravo. Entrevista com Nuno Ramos. Edição 76, janeiro 2004.
Revista Piauí. As vozes que voltaram. Edição 185, fevereiro 2022.
Revista Zum. Giselle Beiguelman e a cidade como interface. n. 17, 2019.
Seligmann-Silva, Márcio. Literatura, Testemunho e Trauma. Rio de Janeiro: 7Letras, 2020.