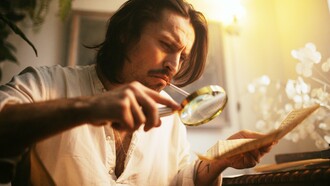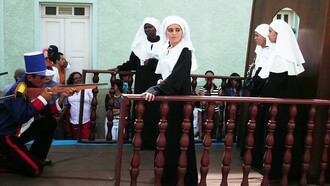Neste segundo episódio da série Clássicos da Análise do Discurso, nos voltamos para o pensamento de Michel Pêcheux, um dos principais nomes da vertente francesa da Análise do Discurso (AD), cujas formulações transformaram profundamente a maneira como compreendemos a linguagem, o discurso e suas articulações com a ideologia.
Essa discussão tem, para mim, um significado especial: estudei esse conteúdo durante o segundo semestre de 2024, em uma disciplina ofertada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a qual eu aguardava ansiosamente desde meu ingresso na universidade em 2022.
O contato com a obra de Pêcheux não apenas aprofundou meu entendimento teórico, mas também me ajudou a enxergar de maneira mais crítica as relações entre linguagem e sociedade.
Michel Pêcheux, em sua obra central Semântica e Discurso: uma Crítica à Afirmação do Óbvio, propõe uma ruptura com a concepção tradicional da linguagem como um instrumento neutro de transmissão de ideias. Para ele, a linguagem não é transparente nem inocente; trata-se de uma prática social constituída historicamente e profundamente atravessada por processos ideológicos.
Isso significa que toda forma de dizer algo, ou mesmo de silenciar, está inserida em um contexto de disputas simbólicas que refletem relações de poder. A linguagem, portanto, não apenas representa o mundo, mas participa ativamente de sua construção.
Segundo Pêcheux, todo discurso é produzido no interior de formações discursivas, que são conjuntos de enunciados vinculados a determinadas posições ideológicas.
Essas formações discursivas determinam, de maneira bastante concreta, o que pode ou não ser dito em uma dada conjuntura, quais sentidos são autorizados e quais devem ser reprimidos ou omitidos. A palavra, nesse sentido, carrega marcas históricas e sociais que escapam à simples intenção individual do sujeito que fala. Essa compreensão desloca radicalmente a ideia de que os significados são naturais, evidentes ou fixos. Pelo contrário, Pêcheux nos mostra que o que se apresenta como “óbvio” é, na verdade, o efeito de um processo de naturalização ideológica.
Trata-se de um processo pelo qual certos sentidos se consolidam como verdades inquestionáveis, ao passo que outros são deslegitimados ou invisibilizados.
O resultado disso é uma ilusão de neutralidade e universalidade da linguagem que, ao ser desfeita, revela as estruturas ideológicas que sustentam o discurso dominante.
Nessa perspectiva, o discurso deixa de ser apenas uma sucessão de palavras e se torna um campo de luta simbólica. A linguagem é, portanto, o terreno onde diferentes ideologias se confrontam na tentativa de hegemonizar os sentidos e estabelecer quais versões da realidade serão reconhecidas como legítimas.
Essa disputa não é apenas teórica ou abstrata: ela se materializa nas práticas discursivas do cotidiano, nas instituições, na mídia, na escola, no direito, na política e em todos os espaços sociais onde se produz significado.
Além disso, Pêcheux nos oferece uma concepção de sujeito bastante distinta da noção liberal e iluminista de um indivíduo autônomo, consciente e racional.
Para ele, o sujeito do discurso é sempre interpelado pela ideologia — ou seja, ele ocupa uma posição já definida pelas formações discursivas e, muitas vezes, repete discursos cuja origem e sentido ele não domina por completo.
O sujeito, assim, é constituído nas e pelas relações sociais, e suas possibilidades de fala e escuta são historicamente determinadas. Ele não é dono de sua linguagem, mas um efeito dela.
As formulações de Pêcheux dialogam intensamente com os trabalhos de Michel Foucault, especialmente no que se refere às relações entre discurso, poder e subjetividade. Ambos os autores rejeitam a ideia de um sujeito soberano e afirmam que todo discurso é regulado por mecanismos de controle, como censura, silenciamento, exclusão e hierarquização.
Nesse contexto, a análise do discurso se apresenta como uma ferramenta crítica para desvelar os dispositivos que sustentam as estruturas de dominação e para compreender como os discursos produzem e mantêm desigualdades sociais e simbólicas.
Portanto, estudar Pêcheux é também exercitar um olhar crítico sobre a linguagem e sua função social. É compreender que, ao falarmos, escrevemos, ouvimos ou lemos, estamos sempre inseridos em um jogo de forças que vai muito além da simples troca de informações.
Estamos atuando dentro de redes de poder que moldam nossas percepções, nossos valores e até mesmo nossas identidades. Por isso, a Análise do Discurso não se limita ao campo da linguística: ela tem implicações profundas para a educação, a política, os meios de comunicação, a psicologia, o direito, entre tantas outras áreas.
Em resumo, a teoria do discurso de Michel Pêcheux nos convida a abandonar as certezas fáceis e a questionar os sentidos estabelecidos.
Ela nos ensina que o “óbvio” é, muitas vezes, apenas uma ideologia que teve sucesso em se apresentar como verdade. Reconhecer a linguagem como espaço de disputa é reconhecer também a possibilidade de resistência, de intervenção e de transformação.
Afinal, se os sentidos são construídos historicamente, eles também podem ser desconstruídos — e novos sentidos, então, podem emergir.