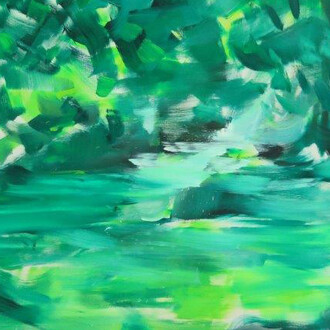Há uma espécie de ternura editorial nas pinturas de Rasmus Nilausen — o gesto recorrente de alguém que refaz o sentido a meio de uma frase, editando o pensamento sem apagar o seu primeiro rascunho. Table of contents é uma exposição que se vai abrindo como um livro; um livro que não cessa de acrescentar potenciais capítulos novos: cada pintura parece ser uma tentativa localizar o início da percepção e o fim da memória. As telas do artista, pairando entre natureza morta, alegoria e anotação, não são tanto declarações quanto notas de rodapé, ou seja, marginália ao acto de ver. Se, em tempos, a pintura aspirou à permanência, aqui, ela torna-se um documentar de linhas de visão mutantes. A “tábua” no seu título é ao mesmo tempo literal e estrutural: um campo composicional, um palco, uma metáfora para a secretária do editor onde fragmentos — fruta, pincéis, linguagem ou fantasmas de memória — são dispostos numa qualquer ordem provisória. Afinal, editar é cuidar da desordem sem a aniquilar.
Quando leio as notas do próprio Rasmus, penso na sugestão de Simone Weil de que, levada ao seu mais alto grau, a atenção se assemelha à oração. Para mim, a atenção do artista parece ser dessa ordem. As suas pinturas abrem espaço à dúvida, à lenta sedimentação da percepção. Em Archive (2024), por exemplo, o artista recorda tentativas de categorizar o mundo na sua infância, construindo sistemas de prateleiras artificiais para armazenar os eventos do dia. Este impulso arquivista ressurge ao longo do seu trabalho — gavetas, grelhas, listas e novelos linguísticos que definem a necessidade humana de sistematizar aquilo que resiste à organização. Mas o que sucede quando as prateleiras colapsam, quando a memória transborda as suas categorias? “A memória está quase cheia”, escreve sobre Feedback (2025) — uma frase tranquila e tragicómica que poderia servir de legenda da nossa era. Porém, a ironia de pintar no século digital não lhe escapa. As suas telas funcionam como servidores analógicos do eu, isto é, lugares de armazenamento e transbordamento. As telas são pintadas e repintadas — trazidas à existência pela dúvida. Em última instância, a própria tinta se torna numa metáfora para os dados [data], embora, ao contrário do ecrã, permaneça pausada — cada pincelada tem a sua própria latência.
Se o modo de habitarmos o espaço é a orientação, então Nilausen pinta o acto do posicionamento enquanto prática ética. Os seus motivos recorrentes são dispositivos para descobrimos o nosso lugar no seio do discernimento. Sugerem que ver não é passivo, mas relacional: devemos continuar a ajustar o nosso equilíbrio no chão móvel da desordem. Veja-se Language angle (2023–25): uma cenoura, uma língua, um ângulo — cada um um emblema de movimento. A cenoura como motivação, a língua como sabor e discurso, o ângulo como perspectiva. Juntos, articulam como o acto de ver mobiliza não só os olhos, mas todo o corpo — apetites, discurso, posicionamento moral. Nas palavras e mundos de Rasmus, a percepção nunca é neutra; a arte de discernir enviesa, escorrega, escorrega, lê mal. Podemos ver como a hesitação é imiscuída na superfície. O artista escreve com desvelo sobre o des-entendimento — sobre como anjos e ângulos podem tão facilmente trocar de lugar — e essa derrapagem parece estar no centro do seu método. Veja-se Blind angels (2024): pintar é ler mal o mundo, deliberadamente, cuidadosamente.
Aqui também há humor — o riso gentil do auto-reconhecimento. Self-portrait as a phone (2025) pode soar irónico, mas também é gentil. A pintura reconhece a nossa condição contemporânea: um constante oscilar entre intimidade e mediação, entre ver e ser visto. O telefone torna-se espelho, o novo objecto de natureza morta através do qual a presença circula. Este auto-retrato alarga o questionamento de proposições anteriores, onde os sinais de pontuação e os ícones digitais substituem os gestos humanos. Aquilo que muda, agora, é a temperatura emocional: aquilo que fora arguto e conceptual parece agora pessoal, ou quase devocional. Estas novas pinturas olham para dentro sem nostalgia. Perguntam sobre o que é aperceber, permanecer atento enquanto o mundo continua a actualizar-se mais velozmente do que a memória consegue acompanhar.
Cada obra lida com limiares entre ver e nomear, recordar e negligenciar. Os títulos parecem cabeçalhos de capítulos para um livro por vir, mas também descrevem estados psicológicos (Self made, Archive, Feedback, Distribution). Maggie Nelson escreve, em “Bluets”, “Suponhamos que eu começasse por dizer que me apaixonara por uma cor”. E que Rasmus Nilausen respondesse: “Suponhamos que eu começasse por duvidar de uma palavra”. Os seus azuis, castanhos e amarelos pálidos não são expressivos, mas cognitivos — pausas, reticências no pensamento. Os espaços das suas telas revelam, a um tempo, saturação e contenção, isto é, atenção sem possessão.
E, contudo, aquilo que sempre me faz regressar ao trabalho do artista não é só o que diz, mas a forma em como insiste ser feito. A fisicalidade das pinturas é o silencioso motor do seu pensamento. Cada pincelada não é nem inteiramente segura nem hesitante; treme algures entre, como se o próprio pigmento testasse a sua convicção. A tinta torna-se uma forma de questionamento e a sua densidade material dá corpo à inquietação filosófica que se move através da sua pintura. Pressentimos que as telas foram trabalhadas e retrabalhadas, ainda que sem a ansiedade da correcção. A pintura não esconde as suas revisões; ao invés, desvela o ritmo da reconsideração, permitindo que gestos prévios permaneçam parcialmente visíveis, como fantasmas de frases elididas, mas ainda legíveis sob a versão final. Esta recusa de fechamento é, talvez, a forma mais táctil de ética de Rasmus. Para ele, pintar é manter visível a dúvida.
A sua paleta, apesar de serena, parece estar repleta de intento. Os azuis, castanhos e ocres não são tons nostálgicos, mas pigmentos pensantes. Parecem ser extraídos do mundo das secretárias e das sombras, da mesa quotidiana, em vez do céu transcendental. O azul é recorrente, tanto como símbolo como enquanto estado de espírito: em tempos divino, é agora digital, uma outra forma de armazenamento — a “nuvem”, em Feedback, que contém demasiada memória. O castanho, por seu lado, ancora tudo. É a cor da mobília, aquivos e solo, daquilo que resta depois do brilho se desvanecer. Mesmo os seus amarelos desconfiam da alegria; parecem tremeluzir como o pensamento, captando a luz antes que desapareça. Há uma humildade nesta contenção cromática — não minimalismo, mas uma empatia comedida. Para mim, estas cores recusam o espectáculo; convidam proximidade. Olhar para uma das suas pinturas é experienciar o tempo a travar, como se os próprios pigmentos estivessem a deliberar sobre permanecerem opacos ou se tornarem transparentes.
Se as suas obras anteriores flirtavam com a clareza gráfica dos símbolos digitais, estas novas pinturas parecem mais porosas, mais-que-humanas. O manusear material tornou-se mais lasso, mais aquoso. As arestas transvasam; os contornos hesitam. O óleo, habitualmente o meio da permanência, porta-se, aqui, como aguarela — fino, trémulo, reversível. É como se as pinturas quisessem recordar que cada gesto é temporário — uma fragilidade que lhes dá o pulso, uma teologia pictórica onde opacidade e transparência coexistem como a fé e o seu questionar.
Mesmo os seus motivos recorrentes são estudos materiais sobre equilíbrio e instabilidade. A mesa pintada, umas vezes transbordando de objectos, outras vazia, torna-se a medida daquilo que resta quando a linguagem vacila. Sentimos que estes objectos são simultaneamente antigos e provisórios, suspensos entre utilidade e símbolo, entre mão e ideia. A Table of contents pode, assim, ser lida também como um estudo de superfícies — daquilo que sustentam, reflectem e traem, tal como em Still life with leeks and fringe (2025). Cada pintura é o resíduo de uma conversa. A materialidade destes trabalhos insiste em que o pensamento nunca é abstracto. O óleo transporta peso e espessura, resistindo à transparência limpa do ver digital. Numa era de imagens imateriais, a insistência de Nilausen na lentidão — no arrastamento, no tempo que uma superfície demora a secar — é radical. As suas pinturas são máquinas temporais, convidando-nos a encarnar a arte pausada do discernimento.
Olhando mais de perto, começamos a pressentir que as suas cores operam como sintaxe. As finas aguadas de castanho e cinza funcionam como conjunções; os negros mais definidos, como pontos; os azuis hesitantes, como reticências. As pinturas lêemse como frases ainda em formação — gramáticas de luz e hesitação. Não são asserções nem descrições, mas pausas entre. Material e mente convergem neste espaço suspenso. Pintura e linguagem são tratadas como irmãs — ambas escorregadias, ambas susceptíveis de erro, e capazes de verdade apenas quando admitem a sua incompletude. Talvez seja por isto que a sua paleta surge como tão ética: não performa sinceridade, mas coloca-a em cena através da própria instabilidade do seu material. Ver estes trabalhos é testemunhar o decorrer de uma negociação entre superfície e substância, atenção e rendição, saber e não-saber. E, contudo, as suas pinturas não são ascéticas. São plenas de movimento, humor e de uma espécie de broma metafísica. Em Asinus ad Lyram (2025), o artista toma de empréstimo um mosaico medieval — um burro a tocar lira — para meditar sobre a estupidez e o espectáculo. “O que haverá de atraente na mais extravagante estupidez?”, pergunta. A pergunta talvez pudesse descrever o nosso vício colectivo no ruído, no ultraje, e nas economias afectivas da vida moderna. Porém, nas suas mãos, o burro também se torna numa figura da humildade – o tolo que continua a tocar apesar de saber que a melodia é absurda. Há compaixão nesse gesto. Desta perspectiva, Self made ii e Self made iii (2025) lêem-se menos enquanto ironia do que resistência: o acto de moldar um eu a partir da incerteza. Lembram-nos que a identidade, tal como a pintura, é um trabalho de edição contínua. Cada revisão é, simultaneamente, perda e renovação. Se esta exposição é uma “tábua das matérias”, a própria tábua se torna num local de negociação ética — um lugar onde conversação e nutrição convergem, extravasando a moralidade e a política da representação. É, também, onde se reúnem fragmentos, onde o pintor-enquanto-editor decide o que guardar e o que descartar.
Ao escrever sobre Nilausen, eu própria me descubro a adoptar o seu ritmo — circundando, duvidando, regressando. Editar passa a ser um modo de pensar-com mais do que pensar-sobre. Montar este ensaio é pôr em prática o seu método: coligir observações, deixá-las co-existir sem hierarquia, permitir que as lacunas falem no presente do indicativo. Em última instância, aquilo que o artista propõe é uma nova forma de atenção enquanto prática e uma curiosidade sustentada pelo modo em que o sentido é feito e desfeito no quotidiano. Talvez seja essa a serena generosidade da prática de Rasmus: ensinar-nos que aperceber é participar no acto de editar — aprender a habitar um rascunho contínuo, onde o cuidado se mede não pela certeza, mas pelo tempo que estamos dispostos a continuar a olhar, até que o acto de ver nos inunde os olhos.
(Texto de Laura Vallés Vílchez)